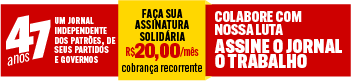Baseado no livro de Marcelo Rubens Paiva, “Ainda Estou Aqui”, o filme narra um dos muitos crimes da Ditadura Militar. O pai de Marcelo, Rubens Paiva, foi assassinado pela ditadura. “Ainda estou aqui” joga luz ao fato que os assassinos também continuam aqui, impunes.
Na madrugada do dia 20 de janeiro de 1971, seis agentes da repressão da ditadura invadiram, sem mandado judicial, a casa da família Paiva, no bairro do Leblon, Zona Sul do Rio. Com a edição do AI-5, em 1968, os órgãos de repressão policial-militar prescindiam da ordem judicial para devassar as residências.
De lá, saíram com o ex-deputado do PTB, Rubens Beirodt Paiva, que nunca mais seria visto, vivo ou morto. Paiva, eleito por São Paulo em 1962 foi cassado por ter apelado, em discurso em 31 e março de 1964, à resistência ao golpe.
Até 1995, Rubens Paiva, como centenas de brasileiros, militantes políticos e sindicais, estudantes, camponeses, jornalistas, professores, profissionais liberais de posições democráticas, foram considerados apenas como desaparecidos, assassinados que foram nos porões da ditadura.
O filme narra esta história em três atos.
O primeiro, acompanha o dia-a-dia da família Paiva, por volta do momento de seu sequestro. Rubens Paiva se exilou, após sua cassação, na Iugoslávia e depois na França. Em 1965, volta ao Brasil, se mudando com a família de São Paulo para o Rio, onde retomou a profissão de engenheiro. A única atividade política que desenvolveu neste período foi o de proporcionar o contato dos militantes exilados ou clandestinos com suas famílias,como portador da correspondência entre eles.
Monitorado pelos órgãos da repressão, Paiva é sequestrado, torturado e morto entre os dias 20 e 22 de janeiro de 1971. Sua família é mantida em cárcere privado por vários dias, com sua casa ocupada por agentes do DOI-CODI. Paiva saiu de sua casa guiando o próprio carro, o que depois se tornou uma evidência de seu sequestro, pois, dias após, uma irmã foi buscar seu carro no quartel e recebeu um comprovante com o carimbo do Exército.
Sua esposa Eunice Paiva (Nice) foi conduzida com sua filha Eliana ao mesmo quartel onde o marido havia sido morto. Ficou incomunicável sob duro interrogatório por cinco dias. Sua filha foi libertada um dia depois da detenção da mãe.
Este primeiro ato, o mais dramático do filme, tenta situar as circunstâncias do sequestro e morte de Rubens Paiva, numa detalhada reconstituição de época, onde o diretor não se interessa em um painel mais amplo da situação do país. A repressão atingia vastos setores sociais, o que levou ao desmantelamento das organizações políticas e sindicais construídas antes do Regime Militar. Mas, o primeiro ato é impactante e recoloca em jogo os horrores da Ditadura.
Os outros dois atos são curtos. O segundo põe foco em quando, 24 anos depois do martírio de Rubens Paiva, o Estado brasileiro foi obrigado a reconhecer a morte dos chamados desaparecidos, graças à edição da Lei 9.140/1995, que determinava a expedição dos atestados de óbito dos cidadãos assassinados pelo regime de 1964. Esta conquista trará a marca da batalha de Nice Paiva -interpretada extraordinariamente por Fernanda Torres – já então uma respeitada advogada da área dos direitos humanos e ambientais, pelo reconhecimento da verdade, isto é, do assassinato de seu marido. Mas, ainda que a expedição da certidão de óbito tenha sido uma vitória, ainda mantinha a imputabilidade do Estado nas execuções dos opositores da Ditadura.
Finalmente, o terceiro ato põe em cena a família Paiva à época da constituição da Comissão Nacional da Verdade, numa longa sequência em que Fernanda Montenegro (interpretando Nice nesta fase), sem dizer uma palavra, rouba a cena, num ponto alto do filme. Nice Paiva, acometida de Mal de Alzheimer morreu em 2018.
O filme traz à baila o problema fundamental e irresoluto da responsabilização e punição dos responsáveis pelos crimes da ditadura e a questão da tutela militar que permanece até hoje.
É emocionante a cena em que Nice recebe o atestado de óbito de Rubens Paiva, mesmo se não trate da imensa limitação daquele ato. Por anos, a Comissão Especial sobre Mortos e Desaparecidos Políticos (CEMDP) – constituída em 1995 e dissolvida por Bolsonaro em 2022 – lutou para que os atestados trouxessem a data, o lugar e as causas das mortes dos “desaparecidos”. Em 2009 o Supremo admitiu a revisão dos atestados, mas estabeleceu que as famílias deveriam entrar com ação judicial e a decisão caberia aos juízes. Em 15 anos, apenas 13 decisões judiciais foram tomadas em favor das famílias.
“Ainda estou aqui”, é a arte que nos traz à realidade
A exibição do filme coincide com a divulgação do relatório da Polícia Federal sobre o golpe que vinha sendo tramado por vários generais, nas entranhas das Forças Armadas, para impedir a posse de Lula em 2023. Os fatos retratados no filme têm toda relação com os fatos revelados neste relatório da PF.
A recente tentativa de golpe não é questão de CPF (pessoa física), como alguns querem fazer parecer, mas de CNPJ (pessoa jurídica), a própria instituição Forças Armadas.
A anistia dada em 1979 aos agentes da ditadura e a tutela militar consagrada na Constituição de 1988 (artigo 142), permitem que eles também – torturadores, assassinos, generais golpistas e seus aprendizes – ainda estejam aqui.
No final do filme, a música “É preciso dar um jeito, meu amigo” de Erasmo Carlos é superposta ao registro da impunidade dos militares. Salas cheias aplaudem entusiasticamente.
“Ainda estou aqui” dá ânimo à luta que continua.
Eudes Baima